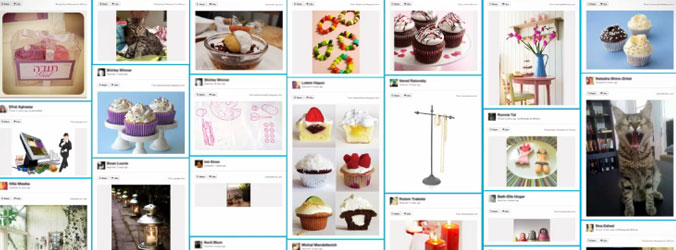
Sem categoria
2012 – O Fim dos Tempos com grande estilo!
Por Fábio M. Barreto Pensar no cinema de Roland Emmerich não é tarefa simples. Ele é o rei do filme desastre nos últimos 15 anos, é odiado por seus inevitáveis e…
Por Fábio M. Barreto Pensar no cinema de Roland Emmerich não é tarefa simples. Ele é o rei do filme desastre nos últimos 15 anos, é odiado por seus inevitáveis e…
Por Fábio M. Barreto
Pensar no cinema de Roland Emmerich não é tarefa simples. Ele é o rei do filme desastre nos últimos 15 anos, é odiado por seus inevitáveis e constantes clichês, mas tem méritos – especialmente técnicos. Entretanto, seu estilo desagrada à crítica e sua relevância, na maioria das vezes, deixa de existir. Lembro das conversas entre Luiz Carlos Merten e Luiz Zanin sobre o estilo do “pipoqueiro”. De um lado Merten, sempre aberto a esse tipo de cinema; do outro Zanin, torcendo o nariz pela obviedade.
Mas, no fim, sempre terminavam rindo. Essa é a chave do cinema de Emmerich, nada de extremos, afinal, nem ele se leva a sério. Adora cinema, mas não gosta nem um pouco de discutir sua obra. Curioso notar que Hollywood se tornou dependente desse diretor alemão e seus surtos explosivos. O público sabe disso e as chances de “2012” ser um sucesso estrondoso de bilheteria são proporcionais à grandiosidade do espetáculo visual. E ele avisa: “esse é meu último filme catástrofe”.
Há algumas leis obrigatórias na composição de um filme catástrofe: a tragédia em si, um personagem principal carismático, uma solução plausível (heróica ou não), contexto visual adequado, e muito, mas muito, peito aberto para usar clichês e soluções óbvias. Especialmente quando se fala em Roland Emmerich mostrando o fim do mundo, em 2012. E ele consegue com notas máximas. Se em “Independence Day” os humanos conseguiram repelir os alienígenas, ninguém é capaz de superar a força da natureza.
Além de orçamento milionário e efeitos especiais de tirar o fôlego – especialmente quando se está familiarizado com Los Angeles e Santa Mônica –, Emmerich escolheu um herói incomum para seu filme: John Cusak, interpretando um escritor fracassado e divorciado que ganha a vida como motorista de limusine para um magnata russo. É um sujeito comum, nada do cientista brilhante ou o especialista capaz de salvar o mundo. A tragédia é garantida, então, sobreviver é a única opção. E quando começa a fuga desesperada de Los Angeles o espectador entra na brincadeira. É inevitável. Um show de edição repleto de angústia, assombro visual e aquela vontade de gritar e festejar quando o mocinho escapa da cidade destruída.
Baseado em algumas das teorias sobre o fim do mundo em 21 de dezembro de 2012, o roteiro de Harald Kloser (que também assina a trilha sonora) e Emmerich não tem muito pudor ao mostrar uma realidade pessimista sobre a situação hipotética: apenas os milionários conseguiriam se salvar. “Os últimos anos me tornaram uma pessoa pessimista”, conta Emmerich a este repórter. “Está cada vez mais difícil olhar para as pessoas e esperar que o bem supremo supere as necessidades e realidades materiais; dinheiro é mais importante que boas ações, infelizmente”.
A visão negativa chega a assustar.
Nada de loteria mundial como em Impacto Profundo, por exemplo. A conta bancária vai decidir que vai ter uma chance de sobreviver, ou não. Há um lado positivo, essas fortunas vão financiar o plano de salvamento da Humanidade, suas obras de arte, animais e o legado de uma civilização condenada à extinção instantânea. É a luz no fim do túnel, mas, obviamente, aparece como tema terciário perante o grande astro de 2012: o apocalipse. Nada de figuras bíblicas ou teorias malucas, o conceito envolve mudanças no comportamento do Sol e, inevitavelmente, seus efeitos na crosta da Terra.
Seguindo sua tendência de globalizar a história, Emmerich mostra diversos países sofrendo com a movimentação das placas tectônicas – incluindo o Brasil, em breve cena do Cristo Redentor ruindo e uma menção gratuita à rede de notícias Globo News (de acordo com o roteirista, resultado de busca na internet e não de menção paga pelo canal) –, mas tomou cuidado extra na área religiosa.
As principais religiões foram retratadas ou afetadas pela tragédia, menos uma: o islã ficou fora. “Não queremos uma fatwã [sentença de morte] por causa de um filme que deve entreter e nada mais”, diz Emmerich. “Isso não seria fundamental para o filme e melhor pecar pelo zelo excessivo do que ter que explicar depois”.
Entretenimento, o termo certo para definir o cinema de Emmerich, capaz de mesclar momentos brilhantes como Stargate, assim como escolhas patéticas e, inevitavelmente, engraçadas pela obviedade como 10.000 a.C (pior filme de sua carreira). 2012 é o auge, transformando a cena da fuga de Los Angeles em referência imediata em seu gênero. É de arrepiar. Especialmente pela perfeita sincronia entre trilha sonora e roteiro, uma vez que Harald assume escrever já pensando na música adequada ou mesmo imaginando uma composição antes de “encaixar falas ou cenas específicas”.
Ele explica: “lembro da primeira vez que escrevi com Roland, estava criando a música para uma cena e era impossível encontrar algo adequado, então liguei para ele e disse que o problema era a cena, não a música; precisava reescrever para uma trilha já pronta. Ele me perguntou: achei que você fosse só o compositor? (risos)”.
“2012” marcou o gênero por ser o melhor filme, até o momento, sobre o apocalipse previsto pelos Maias e também por ser, teoricamente, o último filme catástrofe de Roland Emmerich. “Já não queria fazer esse, mas Harald insistiu tanto até me convencer, e acho que fizemos bem. Mas agora chega, quero fazer outros filmes”, diz Emmerich, já trabalhando pesado em Anomyous, drama com foco nas disputas autorais da obra de William Shakespeare.
Agora resta a pergunta: quem vai assumir o papel de “mestre do cinema catástrofe”? Façam suas apostas, mas antes de 2012, afinal, nunca se sabe e a vida tem o hábito de imitar a arte.
![]()
Fábio M. Barreto é jornalista e correspondente brasileiro em Los Angeles. Além de trabalhar para as revistas Sci-Fi News, Movie e Atrevida, edita o site SOS Hollywood e concorre ao Prêmio PodCast 2009 com seu podcast, o SOSCast.
![]()